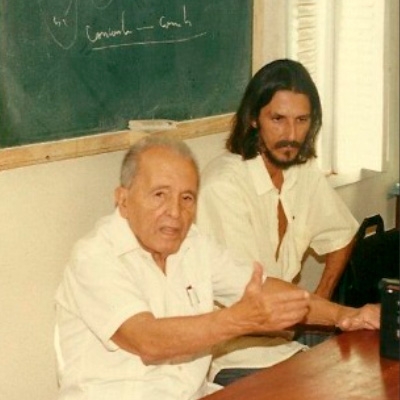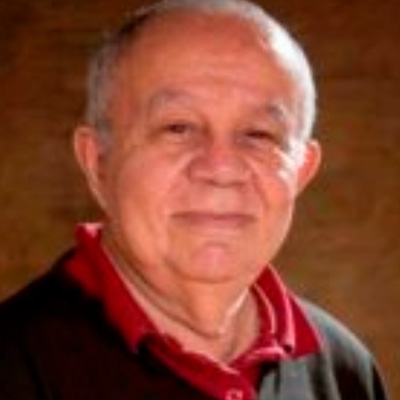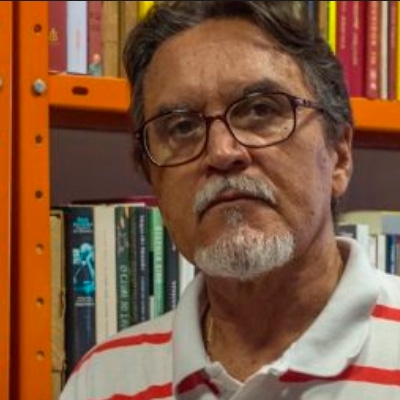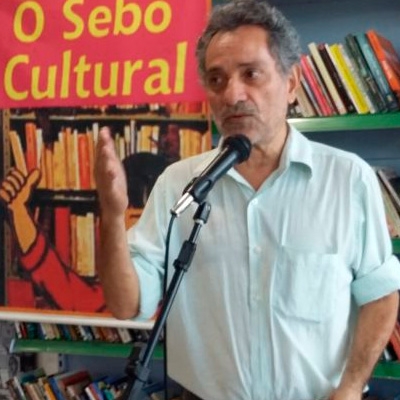Por: | 18/10/2025
AH, OS ANOS SESSENTA...
Hoje ninguém tem dúvidas: do ponto de vista comportamental, o Século XX se dividiu em duas metades distintas. E a dobradiça foi a década de sessenta. Foi lá que tudo aconteceu e o conjunto complexo dessas mudanças concedeu à essa década o seu charme.
No Brasil, por exemplo, era tanta coisa ocorrendo que nem dá para listar tudo – concretismo, arquitetura de Brasília, Bossa Nova, Cinema Novo, Garrincha, Eder
Jofre, Ieda Maria Vargas, Jovem Guarda, fusca, tropicália, Leila Diniz, sem falar no que vinha de fora e se incorporava, como lambreta, pílula, mini-saia, hippies, Twist, Beatles, nouvelle vague...
Claro que, no bojo, vieram coisas nada agradáveis, como o golpe militar de 64, e depois, mais drástico, o de 68, mas digamos, com pesar, que isso entrou no contexto.
Um quesito importante na década foi o cinema. Foi quando, pela primeira vez, se evidenciou a oposição entre “cinema comercial” e “cinema de arte”. De repente, ver um filme não era mais só um divertimento, mas, também cultura, arte, sofisticação. Em João Pessoa, por exemplo, estava no auge a prática dos cineclubes, que formou toda uma gama de futuros cinéfilos, eu inclusive.
Um papel decisivo nessa mudança de comportamento do público local foi a ACCP (Associação de Críticos Cinematográficos da Paraíba), particularmente com a instituição do chamado “Cinema de Arte” que funcionou no Cine Municipal, às quintas-feiras.
Só tendo vivido a época para saber o quanto era básico frequentar essas sessões das quintas-feiras no Municipal, onde você encontrava a nata da intelligentsia pessoense (“aquele pessoal que escreve em jornal”, dizíamos nós, meros espectadores), e era introduzido a filmes que o circuitão jamais mostraria – geralmente, as últimas invenções vanguardistas do cinema europeu, tipo Truffaut, Godard, Fellini, Visconti, Bergman...
Tudo bem, no final de semana você até podia (escondido dos intelectuais, claro!) entrar na fila do Rex para ver – digamos – Kim Novak em “Sortilégio de amor”, ou na do Plaza, para ver Susanne Pleshette em “Candelabro italiano”, mas isto não devia, de modo algum, perturbar a noção recém-aprendida de que cinema era arte.
Se você tivesse sorte, a próxima sessão de quinta-feira no Municipal corrigiria os seus vícios hollywoodianos. Assistir lá – digamos – a “O Eclipse” de Michelangelo Antonioni devia limpar os seus olhos e mente dos vícios comerciais, ainda que você não entendesse nada do filme de Antonioni e, por ironia, tivesse entendido tudo de “Sortilégio de amor” e de “Candelabro italiano”.
Escrevo em tom de brincadeira, porém, a brincadeira se justifica: pois quero chegar a uma das criações sócio-culturais mais engraçadas da década, que foi a da figura do espectador de baixa estima, submisso, subalterno, aquele que sabia de antemão que o filme (de arte, claro!) a ser visto estava, necessariamente, acima de seu nível intelectual. E mais, que só havia esperança de entendê-lo, se lesse, nos jornais - os do Sul e os locais - os comentários dos críticos de cinema. De alguma maneira, eram filmes com bulas.
Eventualmente, nem os críticos conseguiam fazer você entender, vamos supor, um caso extremo: “O ano passado em Marienbad”, e a razão (sabe-se hoje) era simples: a obra prima de Alain Resnais fora feita, de propósito, para não ser entendida. E se não podia ser entendida, como poderia ser explicada?
Não só “Marienbad”, outros filmes das sessões de arte, podiam ser chatos, desinteressantes e pouco digeríveis. Ninguém gostava – acho que às vezes nem os intelectuais - mas, quem, naquela época de vanguardismo ideológico, estaria doido para declarar uma coisa dessas de um filme concebido, rodado, distribuído e divulgado com rótulo de cinema de arte?
Bem, só se fosse o pessoal com fama para tanto. No Rio de Janeiro, foi o que fez Jaguar, em famosa charge de março de 1966, publicada no número 5-6 da Revista “Civilização Brasileira”.
A charge mostrava o público saindo de um cinema, todo mundo de cara feia, como quem comeu e não gostou, enquanto, lá num cantinho da calçada, um amigo explicava a outro, com o entusiasmo de quem houvesse descoberto a mais nova sacada da arte cinematográfica: “O filme é uma droga, mas o diretor é genial”.
Mais tarde, a mesma ideia penosa de que você devia ir a cinema para “ver” o diretor, e não o filme, terminou por gerar teorias interessantes, como a da grande pensadora americana Susan Sontag, que se aproveitou de Lacan para falar de um “cinema do significante”, em detrimento de um “cinema do significado”, aquele primeiro esteticamente superior, porque feito para ser usufruído, e não compreendido. Com ironias ou não, foi quando se popularizou o conceito de que “é chique não entender”.
Ah, esses buliçosos, controversos, essenciais e inesquecíveis anos sessenta...